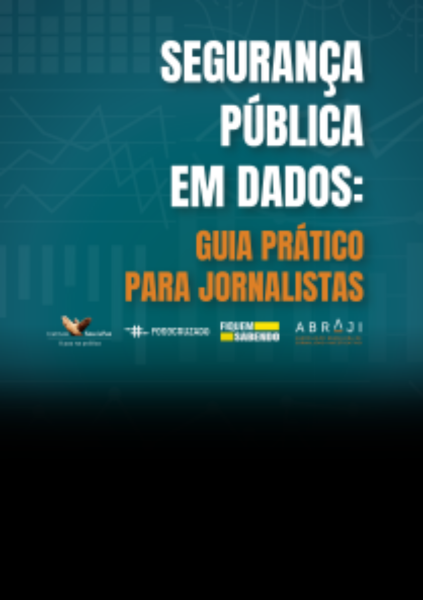Especialistas veem quadro de descontrole e politização e discutem riscos de insurreição de forças policiais
Por Fernanda Mena (leia a matéria complica publicada pelo jornal Folha de S. Paulo)
Se a política entra pela porta da frente de um quartel, a hierarquia e a disciplina saem pela porta dos fundos. A frase, dita no contexto da greve de policiais militares do Ceará, em fevereiro de 2020, é do general da reserva e vice-presidente da República, Hamilton Mourão.
Ele, que já foi trocado de cargo por criticar os governos de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), deve saber o que diz. Desde a redemocratização, não se viam tantos militares e policiais na política institucional brasileira. E, desde então, nunca estiveram tão presentes no radar de preocupações do país o aparelhamento das instituições democráticas e a possibilidade de instrumentalização das forças de segurança pela retórica golpista do atual presidente.
Cada vez mais fardados encampam plataformas de lei e ordem e de melhorias de suas condições de trabalho, e seguem os passos daquele capitão Jair Bolsonaro que abraçou bandeiras corporativas da tropa e se viu empurrado a deixar a ativa do Exército, dando início a uma carreira política no baixo clero, como vereador do Rio de Janeiro, em 1988.
“PMs eram tratados quase que em regime análogo à escravidão. Uma das repressões disciplinares comuns aos soldados era dar um turno extra de trabalho. Isso levou às greves e às candidaturas de policiais”, diz José Vicente da Silva, coronel reformado da PM de São Paulo, que foi secretário nacional de Segurança Pública no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB).
“As condições de trabalho são precárias, a qualidade das viaturas é ruim, o salário é baixo, e policiais não engravatados costumam ser vistos como categoria profissional inferior”, aponta, apesar dos crescentes gastos de diversos estados com a segurança pública. “Isso vai afetando o ânimo. E polícia desmotivada pode ser fatal para a sociedade”, avalia.
“Por lei, policial não pode fazer greve. E o que fica abafado acaba explodindo de alguma forma. Policiais em situações de vulnerabilidade ficam mais suscetíveis à política, e Bolsonaro foi o primeiro presidente a valorizar reiteradamente a polícia.”
Entre cortejos e promessas de melhores salários e de um dispositivo para livrar agentes de responsabilidades legais diante de mortes —o chamado excludente de ilicitude—, Bolsonaro não entregou quase nada até agora. Mesmo assim, muitos seguem seu caminho.
Entre 2010 a 2018, a quantidade de policiais e de militares eleitos deputados federais aumentou exponencialmente (950%), segundo levantamento do Instituto Sou da Paz.
Nesse mesmo período, 8 em cada 10 policiais candidatos estavam vinculados a partidos de direita e de centro-direita, segundo pesquisa do sociólogo Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública). O pico dessa tendência conservadora foi em 2018, quando 9 em cada 10 policiais foram candidatos à direita.
Outro fator de politização das forças de segurança está relacionado ao modelo de participação política disponível para seus integrantes.
Ao contrário de outras carreiras do serviço público, como a de promotores e juízes, das quais é preciso abrir mão para se lançar na política, policiais com mais de dez anos de funcionalismo podem retomar os cargos nas corporações caso percam a disputa eleitoral, em uma porta giratória entre política e polícia.
Na eleição de 2020, parte dos 8.296 agentes de segurança que disputaram cargos e não se elegeram retornaram a delegacias e batalhões.
Duas questões se impõem: quão contaminados por disputas políticas eles voltam? E de que maneira agora se comportam em relação a aliados políticos e a seus opositores?
Essas respostas vão ditar o quanto tais agentes serão capazes de minar a institucionalidades das polícias por dentro, a partir de pautas políticas próprias, dissociadas dos eleitores.
“É preciso investir de fato nas polícias como um todo para diminuir suas suscetibilidades, criar mecanismos institucionais que acolham suas demandas trabalhistas e regulamentar melhor a participação de agentes na política institucional para evitar a porta giratória”, aponta a diretora-executiva do Sou da Paz, Carolina Ricardo.
A politização de instituições que, em uma democracia, detêm o monopólio do uso da força, inclusive da força letal, não é algo trivial e sem consequência.
O próprio motim cearense a que Mourão se referiu foi exaltado por policiais militares que trocaram a farda pelo palanque. Seu maior expoente local é o deputado federal Capitão Wagner (PROS-CE), que liderou duas rebeliões policiais em 2011 e 2012 antes de iniciar carreira política meteórica rumo à capital federal, onde apoia o presidente e integra a famigerada bancada da bala.
Ele e outros policiais políticos do Ceará apoiaram o motim contra o governador Camilo Santana (PT) na crise que deixou 51 pessoas mortas nas primeiras 48 horas de paralisação e culminou em uma das cenas mais insólitas do concorrido acervo da política brasileira recente. Nela, o senador Cid Gomes (PDT) pilota uma retroescavadora em direção à barricada erguida e defendida por dezenas de policiais encapuzados, amotinados em frente a um batalhão da PM —e leva dois tiros.
No atual cenário de polarização política, a greve do Ceará foi o evento emblemático inaugural de uma onda de abusos de poder e do uso da força cometidos por policiais em contextos altamente politizados.
Recentemente, em Goiás, um PM evocou a Lei de Segurança Nacional (LSN), herança da ditadura militar, para prender um professor que se recusou a retirar do capô do carro um adesivo com “Fora Bolsonaro genocida” escrito. Nos dois anos de governo Bolsonaro, a LSN foi usada como base para 77 inquéritos, parte deles ligados à imagem do presidente. O número supera a soma dos quatro anos anteriores.
No Tocantins, outro professor foi investigado pela Polícia Federal, a pedido do ministro da Justiça, André Mendonça, em razão de outdoors pró-impeachment, um dos quais trazia a imagem de Bolsonaro com a frase “Não vale um pequi roído”.
Na Bahia, um policial em surto, armado, atirou contra os próprios colegas depois de horas de negociação e acabou alvejado por eles. Sua trágica morte foi tratada como tema de palanque político, e o deputado estadual Soldado Prisco (PSC) tentou, sem sucesso, provocar um levante de policiais em Salvador.
Em Alagoas, o subcomandante do policiamento da capital foi exonerado do cargo depois de uma série de manifestações nas redes sociais em que declarava apoio a Bolsonaro e atacava o governador do estado, Renan Filho (MDB), e seu pai, o senador Renan Calheiros (MDB-AL).
No Rio de Janeiro, a Polícia Civil desobedeceu a determinação do Supremo Tribunal Federal, que restringiu incursões policiais em comunidades durante a pandemia de Covid-19, e deflagrou, no bairro do Jacarezinho, a operação mais letal da história, com 28 mortos.
Episódios análogos ocorreram em Recife (PE) e no Distrito Federal.
“O bolsonarismo é avassalador dentro das polícias, especialmente da Polícia Militar”, afirma o coronel da reserva Glauco Carvalho, ex-comandante da PM da capital paulista e doutor em ciência política pela USP. “Existe um bolsonarismo democrático, ainda que reacionário, mas também há um bolsonarismo de extrema direita, para o qual a democracia não é solução para o Brasil.”
Estudo do FBSP que monitorou perfis públicos de policiais em redes sociais identificou que 12% dos PMs endossavam comportamentos e discursos antidemocráticos do presidente. Outra pesquisa, da Atlas, apontou que 21% dos policiais são a favor de uma nova ditadura militar.
“As polícias à direita vêm se tornando um problema no mundo inteiro. Se piscar, você perde o controle”, avalia a socióloga Silvia Ramos, do Centro de Estudos em Segurança e Cidadania (CESeC).
Na Alemanha, nos últimos três anos, foram identificados 370 policiais que mantinham laços com a extrema direita, e no mês passado uma unidade especial da polícia foi dissolvida por ter se tornado um grupo extremista dentro da corporação, compartilhando conteúdo nazista e incitando a violência. Na França e nos EUA, observam-se tendências semelhantes.
A surreal invasão do Congresso americano, em janeiro, no coração da democracia global, teve a participação de policiais em folga, identificados na turba. O episódio tornou mais aguda a apreensão quanto às aspirações antidemocráticas de Bolsonaro, que tem promovido um verdadeiro derrame de armas por meio de decretos presidenciais. Em 2018, eram 46 armas registradas por dia no país. Em 2021, são 387.
“Bolsonaro está formando uma estrutura hobbesiana, dizendo que arma é liberdade e ampliando o conceito de excludente de ilicitude. É aí que acaba o Estado democrático de Direito”, diz Melina Risso, diretora de programas do Instituto Igarapé. “Bolsonaro é o cara da lei e da ordem, linha-dura, mas a lógica dele é desmontar o regramento, construindo o caos. Hoje, há cada vez mais grupos radicais armados”, afirma.
“Ainda assim, o maior problema é a autonomia que impera nas instituições policiais”, alerta.
Entre visões mais ou menos aterrorizantes que emergiram no debate público, predomina, entre cientistas políticos e estudiosos da segurança pública, a ideia de que hoje não existiria articulação nacional para uma insurreição orquestrada pelas polícias. Ainda.
Em março, o deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), um dos parlamentares mais próximos de Bolsonaro, apresentou projeto de lei sobre mobilização nacional, um instituto de gestão de crise que permitiria ao presidente assumir o controle das polícias militares estaduais no contexto da pandemia. Ele pediu tramitação em regime de urgência, mas o projeto foi rejeitado.
Antes, proposta de lei orgânica dava mais autonomia para as polícias.
As polícias militares e civis são estaduais, sob o comando de governadores. Na prática, no entanto, poucos deles exercem cotidianamente esse controle, em um jogo de acomodações e intimidações que já favorece uma autonomização excessiva das forças de segurança.
“Bolsonaro é uma ameaça à institucionalidade, não porque seja forte, mas por saber explorar como poucos a omissão e o temor de outros poderes e instâncias”, analisa Lima, do FBSP. “Os riscos de instabilidade acabam se tornando mais generalizados nos estados governados pela oposição ou por figuras que romperam com o bolsonarismo radical. O que pode acontecer nesses estados se a polícia resolver ser do contra?”
“Todo o mundo fica com medo, vendo golpe em tudo quanto é lugar. Quanto mais medo você tiver, menor é a sua capacidade de mobilização e de coesão”, argumenta Jacqueline Muniz, professora do Departamento de Segurança Pública da UFF (Universidade Federal Fluminense). “O governador é responsável por decidir ou por se omitir. Quando a polícia atira, todo o mundo atira atrás dela, a começar pelo governante —e, no final, seu eleitor”, diz.
“Se o governador, que é o comandante em chefe das polícias, não der a elas sua missão, alguém dará a missão no seu lugar, e a decisão passará a ser na política da esquina: cada cabeça, uma sentença, com seu moralismo, sua moralidade e sua ideologia. O mandato policial vira um cheque em branco que cada um pode preencher como quiser.”
Muniz batizou a consequência desse laissez-faire dos Poderes com relação às polícias de autonomização predatória. Sem os controles que, na prática, não são plenamente exercidos por corregedorias, governadores ou Ministérios Públicos estaduais, o poder da arma na mão que as polícias têm acaba se tornando mercadoria política, usada para negociações com os Poderes constituídos e para acuar a sociedade.
“No extremo, gera uma coisa chamada autarquia sem tutela, cujo nome na esquina é milícia. É usar o poder de polícia para fins particulares e propósitos pessoais”, explica.
Segundo o jornalista e cientista político Bruno Paes Manso, autor de “República das Milícias: dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro” (Todavia), uma das sementes da milícia foi justamente a tolerância da sociedade e das instituições à violência policial e a métodos ilegais de resolução de conflitos.
“Ficaram ricos com esse poder de tirar a vida. Eles podem matar e ninguém os prende. E, com isso, desequilibram o mercado do crime e nele vão se empoderando.”
O elo entre a família Bolsonaro e essa banda podre das polícias se evidencia, entre outras, na figura de Fabrício Queiroz, policial militar aposentado e amigo pessoal do presidente, que foi preso na casa do advogado da família presidencial, acusado de operar um esquema de rachadinhas no gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).
“Os Bolsonaro se tornaram porta-vozes e representantes dessa ideologia miliciana, que enxerga a lei como algo que atrapalha a polícia e seu trabalho. Eles têm mentalidade anti-Constituição de 1988, de se impor a partir de gente armada contra o Estado democrático de Direito”, avalia.
Para Paes Manso, Bolsonaro tende a testar a institucionalidade das polícias se seu projeto político for ameaçado. “Em algum momento, ele deve dar o truco. Mas até que ponto ele teria uma liderança capaz de articular todos os armados do Brasil? Eu acho que ele não tem, que existe uma institucionalidade.”
Mesmo que forças de segurança não embarquem como um todo em uma aventura disruptiva, episódios isolados de insubordinação podem ocorrer e provocar tumultos, confusão e mortes.
Poderiam até mesmo convulsionar a próxima eleição, cujo sistema eletrônico de votação há tempos é alvo de suspeições vazias de fraude levantadas pelo presidente.
Bolsonaro vem subindo o tom das acusações contra a urna eletrônica, sempre sem apresentar as provas que diz ter. “Vamos ter problemas no ano que vem. Como está aí, a fraude está escancarada”, disse na última semana. Nesta quinta-feira (8), voltou a disparar: “Ou fazemos eleições limpas ou não temos eleições”. Nesta sexta (9), retomou as ameaças e xingou o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, atual presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
A persistência desse discurso sem lastro é como água mole em pedra dura e tem efeitos na opinião pública.
Levantamento do Instituto Ideia feito com 150 policiais de cinco estados da Federação ao longo de três anos acompanhou a evolução da desconfiança em relação ao voto eletrônico à medida que avançava a narrativa bolsonarista de fraude.
Em outubro de 2018, 30% dos policiais declaravam confiar muito no sistema eleitoral. Em maio de 2021, eram apenas 15%.
“O golpe não precisa ser no modelo tradicional de ruptura nem no modelo húngaro, que é progressivo. Essa história do voto impresso é a senha, e o roteiro é simplíssimo”, pondera o antropólogo Luiz Eduardo Soares, autor de diversos livros sobre as polícias —“Dentro da Noite Feroz: o Fascismo no Brasil” (Boitempo) é o mais recente.
“Em uma cidade qualquer, alguém grita fraude e diz que o voto impresso é diferente daquele digitado na urna eletrônica, e a urna é suspensa. Isso pode ocorrer simultaneamente pelo Brasil, inviabilizando o processo eleitoral. Se o presidente gritar fraude, os policiais serão os primeiros a agir em seu nome.”
Para Soares, a história das corporações policiais no Brasil, criadas como guardas armadas a serviço das elites escravocratas e adeptas da violência, da tortura e do racismo desde sempre, fez de policiais verdadeiros “bolsonaristas ‘avant la lettre’”, ou seja, bolsonaristas antes mesmo de existir o bolsonarismo.
A chave para compreender a persistência dessas características, segundo ele, é a transição democrática representada pela Constituição de 1988 —ou, no caso da segurança pública, a ausência dessa transição.
“Nós tivemos uma negociação com características bem brasileiras: sem rupturas e com acordos entre as elites”, aponta. “Os militares impuseram um cerco e produziram de fato um enclave institucional quando exigiram a preservação das estruturas organizacionais da ditadura, inclusive o modelo policial.”
Sem mexer nessas instituições, nem do ponto de vista da Justiça nem de uma transição cultural para a Nova República, a Constituinte arrastou para dentro do regime democrático práticas baseadas em violação de direitos e operações feitas ao arrepio da lei, além de uma lógica baseada, não em cidadania e transparência, mas em sigilo e no combate a inimigos internos.
A cristalização dessa história está nos intocados artigos 142 e 144 da Constituição Federal, que até hoje aguardam regulamentação.
“No fundo, nós nunca tivemos coragem de fazer as reformas necessárias para democratizar as forças policiais e militares”, provoca Renato Sérgio de Lima. “Na prática, a PM faz o que bem entende e define seus próprios mecanismos internos de controle. São instituições que decidem na ponta, o que é da natureza das polícias. Só que ninguém fiscaliza.”
A tolerância social e institucional com a corrupção, a tortura, a morte e sua impunidade sustentou o modelo antidemocrático de segurança dentro de um arcabouço formal de democracia.
Para Jacqueline Muniz, a polícia é a dimensão mais tangível e visível do exercício de Justiça e de acesso a direitos ou sua exclusão, e o bolsonarismo é sintoma e não causa da agitação política e da instabilidade atuais entre polícias do país. “É possível a governantes e instituições apertar alguns parafusos para despolitizar essas forças”, afirma.
De acordo com a cientista política da UFF, que dá cursos para policiais há mais de 20 anos, é preciso comando civil das forças de combate e de segurança. “FHC criou o Ministério da Defesa para isso, mas ele foi reaparelhado”, diz, referindo-se aos dois últimos ministros militares.
Também seria preciso evitar o monopólio, afastando a possibilidade de unificação das polícias, além de regulamentar o mandato policial e a política de uso da força para que todos saibam onde começa e onde termina a atuação policial —e como ela deve acontecer.
“No Brasil, até o jogo do bicho tem regras escritas, mas os protocolos das polícias e de seu uso da força são ocultos. Não pode funcionar assim em uma democracia”, diz. “É a sociedade que define o poder da sua polícia. Brincar de rebelião dá demissão sumária. O governador tem tinta na caneta para exercer o comando sobre suas forças.”